Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964): Bastidores, curiosidades e teorias do clássico do cinema nacional que passou por restauração 4k e vai ser exibido no Cannes 2022
Deus e o Diabo na Terra do Sol será exibido no Festival de Cannes de 2022, como parte da mostra Cannes Classics. O segundo longa de Glauber Rocha, filmado em 1964 em Monte Santo, sertão da Bahia, passou por processo de restauração nos três últimos anos, projeto desenvolvido pelo produtor Lino Meireles e pela diretora Paloma Rocha, filha de Glauber. Deus e o Diabo teve estreia mundial justamente em Cannes (Veja aqui a lista das indicações) e ganhou indicação à Palma de Ouro. O festival acontece nos próximos dias 17 a 28.
Depois de matar acidentalmente o chefe da fazenda após ser enganado, Manuel (Geraldo Del Rey) e Rosa (Yoná Magalhães) fogem de casa e, alternativamente, se encontram com dois líderes carismáticos: um santo autoproclamado chamado Sebastião (Lídio Silva) cujas visões apocalípticas inspiram horríveis atos de violência e Corisco (Othon Bastos), um bandido que busca vingar a morte do líder antigovernamental Lampaio com quem se comunica via transe. Eles são, respectivamente, o Deus Negro e o Diabo Branco (Black God, White Devil, título do filme em inglês). Dirigido por Glauber Rocha, foi indicado para representar o Brasil no Festival de Cannes de 1964. Também foi escolhido para representar o Brasil no Oscar de melhor filme internacional, na edição de 1965, porém não foi selecionado
Bastidores curiosidades e história por trás do filme
Segundo Nelson Motta, no livro A Primavera do Dragão: A Juventude de Glauber Rocha, depois de oito versões diferentes, o roteiro estava pronto, e Glauber decidiu que iria filmá-lo em Monte Santo, no coração mítico do sertão baiano. E mudou o título de A Ira de Deus para Deus e o diabo na terra do sol.
Ainda segundo o autor, o produtor do filme era um jovem playboy conhecido das colunas sociais, Luiz Augusto Mendes, o Gugu, filho de um rico fazendeiro e político baiano. Seus ídolos eram outros playboys, o paulista Baby Pignatari e o carioca Jorginho Guinle, que tinham carrões, eram convidados para as melhores festas e namoravam as estrelas de cinema e as mulheres mais bonitas do Brasil.
Extrovertido e bem-relacionado na sociedade soteropolitana, Gugu já não precisava do dinheiro da família, faturava gordas comissões em negócios imobiliários. Por comodidade, ainda morava com os pais, mas mantinha um apartamento no Hotel da Bahia, o maior e mais moderno da cidade, segundo Motta, como ninho de amor. Festeiro, mulherengo e espalhafatoso, um dos números mais conhecidos de Gugu era chegar bêbado de madrugada, subir na calçada do hotel e adentrar o imenso salão acarpetado ao volante do seu Chevrolet 61. Saía do carro, entregava as chaves a um porteiro e "molhava" sua mão para estacioná-lo. Pedia à recepcionista a chave do seu apartamento, distribuindo sorrisos e gorjetas.
Mas a vida de Gugu mudou depois de assistir à comédia Society em Baby-Doll (1965), que iniciava uma turnê pelo Nordeste. Ficou louco com a jovem atriz carioca Yoná Magalhães, segundo ele, uma morena belíssima, de corpo espetacular, que aparecia de baby-doll no palco. Depois do espetáculo, nos camarins, Gugu se desmanchou em elogios e convites, amavelmente declinados por Yoná.
No dia seguinte, quando chegou ao teatro, ela encontrou seu camarim tomado por várias dúzias de rosas e cartões apaixonados de Gugu.
Yoná fez jogo duro, pois era comprometida no Rio, estava começando uma carreira no teatro e na TV Tupi. O pai de Gugu queria casá-lo com a filha do ex-governador Antonio Balbino e selar com o casamento uma aliança política. Mas Gugu estava perdidamente apaixonado, abandonou as farras e os negócios e seguiu com Yoná para as apresentações em Aracaju, Maceió, João Pessoa, Recife, Natal e Fortaleza.
Yoná não queria saber de aventura e temia a fama de conquistador do playboy. Só casando. Para mostrar que era sério, Gugu enfrentou a ira do pai e soltou a bomba: ia se casar com uma atriz, que para o velho patriarca conservador "equivalia a meretriz", nos dizeres de Motta. Gugu sobreviveu à fúria paterna e Yoná só foi ao Rio de Janeiro fechar a casa e buscar suas coisas para começar vida nova em Salvador. Sem conhecer ninguém no meio teatral baiano, seria difícil para Yoná prosseguir em sua carreira, mas Gugu prometia ajudá-la com seus contatos na imprensa e na cena artística.
Conseguiu um espaço na TV Bahia e começou a produzir Teatro ao vivo, um programa semanal com adaptações de peças teatrais dirigidas por Maciel e estreladas por Yoná. Maciel estava recém-chegado de uma temporada de dois anos estudando teatro nos Estados Unidos, com uma bolsa da Fundação Rockefeller, descolada por Martim Gonçalves, com o compromisso de na volta dar aulas na Escola de Teatro.
Mal chegou foi logo se encontrar com Glauber, que lhe mostrou o roteiro de Deus e o diabo.
Maciel ficou impressionado, o texto era todo detalhado, com as sequências estudadas, inteiramente decupado plano a plano. Até as músicas que entrariam pontuando e comentando a história estavam com as letras prontas, no estilo dos cegos violeiros.
O vaqueiro Manuel, explorado e humilhado, mata o Coronel e foge com a mulher, Rosa, primeiro para o fanatismo religioso, e depois para o cangaço. Glauber tinha duas opções para o final, a primeira mais política, com o vaqueiro Manuel, depois de se tornar um místico e um cangaceiro, e se frustrar nos dois caminhos, encontrando o seu destino e se engajando na luta das Ligas Camponesas.
A outra era mais aberto, com Manuel e Rosa fugindo da sua miséria, da miséria do sertão, e correndo até alcançar o mar, a versão preferida de Maciel. Yoná passou a frequentar o curso de interpretação na Escola de Teatro e, sabendo disso, Glauber pediu a Maciel para encaminhar o roteiro a Gugu, na esperança de encontrar um produtor para o filme. Poderia até dar a Yoná o papel de Dadá, mulher do cangaceiro Corisco.
Quando começou a escrever o roteiro, Glauber pensava em Helena Ignez como Rosa. Mas depois de tudo que havia acontecido, só conseguia imaginar Regina Rosemburgo na personagem. E a convenceu de que, mesmo sem formação teatral e sem nenhuma experiência de atriz, com sua beleza e sua expressividade natural, e sob a direção dele, ela seria a Rosa perfeita. Só ela poderia fazer o papel.
Gugu e Yoná leram o roteiro. E gostaram muito. Só havia um problema. “Dadá é um coadjuvante. E Yoná é uma estrela. Se o papel de Rosa não for dela, é o mesmo que você me pedir para assinar o divórcio”, o apaixonado Gugu não tinha alternativas. Nem Glauber. E assim, segundo Motta, o playboy da província se tornou o produtor do revolucionário Deus e o Diabo Na Terra do Sol.
Não foi difícil para Glauber conseguir um bom desempenho de Yoná, que era belíssima e tinha experiência teatral. Difícil seria contar para Regina Rosemburgo e enfrentar a ira dela. Recém-casada com o empresário paulista Wallinho Simonsen, um dos então homens mais ricos do Brasil, Regina gritou e amaldiçoou Glauber. Grande exportador de café, dono da Panair e da TV Excelsior, Wallinho era um empreendedor progressista muito bem-relacionado com o governo João Goulart e com os principais políticos e empresários brasileiros. Glauber aproveitava para lhes mandar instruções por intermédio de Regina: “Se você encontrar o Jango, diga a ele para…” Generosa e sem ressentimentos, Regina logo perdoou Glauber e ainda conseguiu que Wallinho contribuísse para a produção do filme.
Com a definição da atriz que interpretaria Rosa, o elenco ficava completo. Geraldo del Rey seria o vaqueiro Manuel; o galã baiano Adriano Lisboa, a primeira escolha para o cangaceiro Corisco, desistiu na última hora para filmar O crime do Sacopã, no Rio com Roberto Pires e foi substituído, com muita sorte, por Othon Bastos, um ator refinado, que estudara teatro em Londres e tinha sólida formação brechtiana.
A talentosa atriz baiana Sonia dos Humildes seria Dadá; Lídio Silva, que não era ator, mas um carpinteiro que Glauber achava muito expressivo e usara num papel em Barravento, interpretaria o beato Sebastião; e o carioca Maurício do Vale, um grandalhão barbudo, cabeludo e barulhento, que fazia papéis de bandido em chanchadas, viveria Antonio das Mortes, o matador de cangaceiros, de chapelão, capa comprida e espingarda na mão.
Para fotografar, Glauber chamou Waldemar Lima, que substituiu Tony Rabatony em Barravento, ganhando a sua gratidão e confiança. Além do talento e da competência, Waldemar estava muito familiarizado com a luz áspera do sertão.
Glauber era fascinado pela “luz atlântica” que banhava a Bahia e sustentava que era de uma intensidade inimaginável pelos fabricantes de filmes gringos, porque subvertia os diafragmas das câmeras e as emulsões das películas.
No Rio de Janeiro, Glauber conheceu e logo se tornou amigo de um jovem e brilhante crítico de cinema do Correio da Manhã, Walter Lima Junior, um niteroiense formado em Direito pela UFF. Era magro, com óculos de lentes grossas, que compartilhava com Glauber a paixão pelo cinema e pela polêmica. Sabia as trilhas sonoras de todos os filmes. Cria do legendário crítico Moniz Vianna, famoso crítico que defendia fazer uma crítica de filme por dia, Waltinho amargava a frustração de sua primeira experiência com cinema de verdade, como assistente de direção do longa Marafa, baseado no livro de Marques Rebelo, dirigido pelo italiano Adolfo Celi, que naufragara depois de poucos dias de filmagem.
Na Cantina Fiorentina, em frente ao mar de Copacabana, Glauber estava preocupado: Vladimir Herzog, que seria seu assistente de direção, ganhara uma bolsa para estudar televisão na BBC de Londres e estava de partida. E as filmagens começavam dentro de três dias na Bahia. Walter Lima Júnior se ofereceu como quem não quer nada, disposto a tudo. Glauber topou na hora. Viajariam em dois dias, de ônibus, 24 horas de estrada. Enquanto Glauber roncava afundado na poltrona, com as pernas no encosto do assento da frente, Waltinho leu pela primeira vez o roteiro de Deus e o Diabo, que já havia se chamado A Ira de Deus, Viva a terra, Rebelião Agrária e Rebelião camponesa.
Uma das poucas discordâncias era em relação à ideia de Glauber de usar músicas de Brahms e Beethoven nos cenários do sertão. Waltinho imaginava as cenas ao som de Villa-Lobos, com sua brasilidade sinfônica e moderna.
Glauber não era muito ligado em música em geral e mal conhecia Villa-Lobos, embora Saraceni também lhe falasse muito dele, e ficou muito interessado em ouvi-lo. Numa produção modesta, assistente de direção era um eufemismo para braço direito, pau para toda obra, faz-tudo no set. Waltinho deveria organizar os planos de filmagem, trabalhar com Glauber no roteiro e no fim do dia datilografar relatórios com cada cena rodada em todos os detalhes. Além de ficar de olho na continuidade.
O outro assistente seria Paulo Gil, amigo de Glauber, com seu conhecimento do cangaço e de dramaturgia. Além dos cenários e figurinos, seria o responsável pela preparação dos figurantes e a supervisão dos diálogos. Paulo Gil estava preocupado com a qualidade do maquiador que levariam, principalmente pelas cenas de sangue e do esfolamento de um vaqueiro. E também com a sequência do assalto dos cangaceiros à fazenda, que previa a presença de moças nuas.
Dificuldades de produção fizeram as filmagens atrasarem por um mês. Em Salvador, Waltinho e Paulo Gil percorreram todas as lojas de discos da cidade na busca infrutífera por gravações de Villa-Lobos. Segundo Motta, numa tarde chuvosa, foram à discoteca da Aliança Francesa, e enquanto Paulo Gil distraía a atendente, Waltinho surrupiava uma seleção de LPs de Villa-Lobos para debaixo de sua capa de chuva.
Dali para diante suas bachianas, choros e cantilenas seriam a trilha sonora diária não só da casa de Glauber, mas de toda a vizinhança, até a partida para Monte Santo. Depois de dois anos, o casamento de Necy (irmã de Glauber) e Hans ia de mal a pior. Ele sempre viajando, ela cada vez mais infeliz e solitária. Morava no Rio, mas em uma temporada em Salvador conheceu o jovem Caetano Veloso, que também adorava cinema, poesia e era fã de Glauber. Desde seus 17 anos, quando morava em Santo Amaro da Purificação, Caetano adorava cinema e ouvia falar em Glauber, três anos mais velho, como uma estrela da cena artística de Salvador. Tinha até escrito um artigo muito elogioso a Barravento no Diário de Notícias.
Frequentador assíduo das sessões do clube de cinema de Walter da Silveira, Caetano viu Glauber pela primeira vez como convidado de Walter para fazer a apresentação do drama Umberto D., de Vittorio de Sica. Para surpresa geral, em vez de falar das qualidades e da importância do que iriam ver, Glauber desancou o filme.
Glauber era um mito para Caetano, que via o seu estilo como se Orson Welles e Marlon Brando tivessem incorporado num jagunço visionário do sertão da Bahia. Mas era doce quando sorria, espremendo os olhos esbugalhados e desfazendo a atmosfera expressionista do seu olhar incisivo e triste, “trazendo um abandono contagiante e um jato de pureza que desintegrava a teia de esperteza e fúria que sua presença tecia o tempo todo”. Caetano tinha 20 anos e nenhuma experiência amorosa quando conheceu Necy e ficou maravilhado, viu-a como uma mulher visceral e espontânea, linda e muito engraçada.
Sem tempo a perder, se quisesse ver Deus e o diabo concorrendo no Festival de Cannes, Glauber tinha dez meses para botar o filme na lata. Nelson Pereira dos Santos, já estava começando a montar Vidas Secas no Rio.
Na mesma região de Monte Santo, na desolada vila de Milagres, Ruy Guerra terminava as filmagens de Os Fuzis (1964), um drama sobre quatro soldados que escoltam um caminhão de alimentos para uma vila assolada pela seca. Assim que soube, Glauber encarou como uma provocação e reclamou furioso no jornal da invasão estrangeira (já que Guerra era português) em seu território. Com fotografia sofisticada do talentosíssimo argentino Ricardo Aronovich, uma boa produção e a elaborada mise-en-scène de Ruy, Os fuzis certamente iria fazer barulho em qualquer festival.
Depois de oito horas de viagem de jipe, exaustos e cobertos de poeira, Gugu e Yoná chegaram ao “coração místico do sertão baiano”. Ao longo da viagem, o motorista lhes deu um curso completo sobre a história, as lendas e os mistérios de Monte Santo.
Fundada no fim do século XVIII por um padre capuchinho, na mesma região da Canudos de Antônio Conselheiro, a vila foi chamada de Santíssimo Coração de Jesus de Nossa Senhora da Conceição de Monte Santo. Com a fama de cidade sagrada, logo se tornou um centro de romarias, atraindo multidões de peregrinos na Semana Santa e no Dia de Todos os Santos. Entoando benditos e orações, eles percorriam, muitos de joelhos e com pedras na cabeça, os 3 quilômetros do caminho de pedra até o santuário, 500 metros acima da cidadezinha. No alto do morro, sempre batido pelos ventos, o santuário e a visão panorâmica e deslumbrante da vastidão das chapadas e tabuleiros, cercados pelas serras verdes nas brumas da distância.
Além da remissão dos pecados e da esperança aos aflitos, o Monte Santo oferecia um dos bens mais preciosos do sertão, uma nascente de água no sopé do morro, a Fonte da Mangueira. Foi lá, no final do século XIX, que as tropas federais se aquartelaram às vésperas da batalha final em que destruíram Canudos. Antes de se tornar o legendário cangaceiro Lampião, Virgulino Ferreira percorria a região levando mercadorias em tropas de burros.
Depois, no cangaço, teve confrontos sangrentos com o coronel Aristides Simões, fazendeiro e chefe político de Monte Santo. O ar do lugar estava impregnado de memórias de cangaceiros e beatos, de vaqueiros e fazendeiros, de miséria e fanatismo. Toda a equipe técnica do filme cabia em uma van: o fotógrafo Waldemar Lima, seu assistente Eufrásio, o diretor de produção Agnaldo “Siri” e o maquinista Roque. Embora só fosse começar a filmar as cenas de Rosa na semana seguinte, Glauber havia pedido a Yoná que chegasse antes a Monte Santo, para se livrar da carioquice e se impregnar da aridez e da aspereza da cultura, do sotaque e dos ambientes da região. A produção hospedou os homens em uma casa que recebia os romeiros e as mulheres em outra, alugada dos padres. Yoná ficaria num sobradinho do Juiz de Direito.
Preocupado com o conforto de sua deusa, Gugu logo descobriu que o padre tinha uma casa muito melhor, ao lado da igreja. Fez uma proposta irrecusável e o padre se mudou temporariamente para a casa de uma das beatas.
Com a pele muito branca e os cabelos negros descendo pelos ombros, sempre de óculos escuros e chapéu, envolta em véus para protegê-la do sol do sertão, Yoná era a mulher mais linda e misteriosa que Monte Santo já vira. Era bela como uma santa.
Logo correu a lenda, não só em Monte Santo, mas nos vilarejos vizinhos, de que Yoná era uma princesa de verdade e que Gugu cobrava dez cruzeiros de cada pessoa que quisesse entrar na casa e vê-la de perto por alguns segundos. Uma multidão curiosa cercava a casa paroquial. Para tentar serenar os ânimos, o padre teve que celebrar uma missa, com Yoná de corpo presente, e dedicar o sermão a explicar aos fiéis que ela não era uma princesa, mas uma atriz, embora ali ninguém soubesse o que era uma atriz.
Ninguém sabia o que era uma peça de teatro e nem circo. Como seria ainda mais difícil explicar o que era um filme, o padre disse simplesmente que ela fazia parte de um grupo de visitantes que iria passar uns dias tirando fotografias na cidade e na colina sagrada. Graças às feiras e aos fotógrafos ambulantes que percorriam o sertão, a fotografia era familiar a todos e não assustava ninguém. Ele convidou o povo a conhecer Yoná de perto, cumprimentá-la, falar com ela, que era uma moça de muito boas maneiras e temente a Deus. E uma longa fila se formou sob o sol a pino na praça em frente à igreja para conhecer, de graça, a princesa que tirava fotografias.
Yoná estava disposta a enfrentar com estoicismo as exigências atléticas e dramáticas do papel. Só se recusaria a cortar as suas longas unhas de Joan Crawford e adaptá-las ao estilo rústico da sertaneja Rosa. Nem Glauber a convenceu.
Monte Santo tinha cerca de mil habitantes e os mais velhos ainda se lembravam dos tempos de Lampião e de Antônio Conselheiro. Com a chegada da equipe de filmagem, a cidade, mergulhada em profundo clima místico, acordou de sua letargia e passou a viver entre a fantasia, o mito e a realidade.
Quando Othon apareceu na praça vestido de Corisco, houve uma correria, muitas janelas se fecharam e muitas velas foram acesas. Uma velhinha gritou: “Meu Deus! O Diabo Louro voltou para Monte Santo!”, e correu para casa. Terror ainda maior provocou a aparição do gigante Antonio das Mortes no boteco, de espingarda na mão, suando debaixo da capa e louco para tomar uma cerveja.
Para se distrair enquanto não filmava, Geraldo, que tinha trabalhado em uma relojoaria, consertou todos os relógios da cidade e das redondezas. Não foi só a princesa Yoná que empolgou Monte Santo. O galã Geraldo, com seus olhos verdes e sua pinta de Alain Delon sertanejo, também acendeu as fantasias dos locais.
Assim que chegou a Monte Santo, Maurício do Valle vestiu o figurino de Antonio das Mortes e só o tirava para dormir, e às vezes nem isso. Dormia de capa e chapelão, com a espingarda papo-amarelo ao lado. Era Antonio das Mortes 24 horas por dia, mesmo quando não participava das filmagens. Carioca malandro e gozador, Maurição resolveu provocar Geraldo com insinuações sobre a presença constante do rapazinho. Sensível e de pavio curto, Geraldo ficou furioso e, num impulso suicida, partiu para cima do gigante. Gritando uma saraivada de palavrões, Maurição descarregou o fuzil em Geraldo. Mas os tiros eram de festim. E depois explodiu numa gargalhada de Antonio das Mortes.
No primeiro dia de filmagem Glauber só conseguiu rodar um take, na zona de meretrício de Monte Santo, que começava com o Beato açoitando um padre, interpretado por Paulo Gil, caído no chão, com as putas em volta. A cena terminava com o vaqueiro Manuel dando tiros para o alto, depois de se entregar ao Beato e beijar seus pés. No segundo take, o tripé balançou, a câmera caiu e a lente quebrou. As filmagens só seriam retomadas quatro dias depois, com a chegada de uma nova lente de Salvador. Quando a câmera rodou de novo na imensa e desolada praça da cidade, a procissão se arrastava feito cobra pelo chão, carregando andores e estandartes e entoando benditos e ladainhas.
Quando Glauber gritou “ação”, o Beato Sebastião, interpretado por Lídio, começou a gritar: “Vai tudo se acabar! Vai chover cem dias e cem noites! O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão!” A procissão se imobilizou e emudeceu. Enfurecidos com o profeta do caos, os fiéis cercaram Lídio como se fosse o enviado do diabo, o mensageiro da desgraça.
Um menino chutou sua perna, outro lhe deu um empurrão, uma velha beata socava o seu peito gritando “sai desse corpo, satanás”, a cena havia se transformado em uma alegoria glauberiana involuntária. E virou uma chanchada quando, surpreso e apavorado, com medo de ser linchado, Lídio disparou para a casa paroquial, perseguido pela multidão, enquanto Glauber estourava numa gargalhada e gritava “corta”.
Para acalmar a massa enfurecida, Glauber explicou que nada daquilo era verdade, que era tudo um jogo de representação, enquanto eles tiravam fotografias. Os assistentes reorganizaram a procissão, Lídio foi resgatado da casa. Nas primeiras tomadas o Beato ainda estava visivelmente intimidado e nem ele mesmo parecia acreditar nas profecias que gaguejava.
Na manhã seguinte, o motorista do jipe, que também fazia o Cego Júlio no filme, partiu para Salvador com o material rodado, que iria de avião para o Rio e voltaria revelado três dias depois. Glauber estava ansioso para ver como a luz estourada do sertão estava imprimindo no celuloide. Gugu havia alugado um velho cinema em Feira de Santana, a três horas de Monte Santo, onde eles poderiam ver os copiões. As filmagens continuaram com novas cenas da procissão, os figurantes já integrados no clima místico, todos cantando benditos e ladainhas com fervor. E, como se atendendo às suas preces de ficção, começou a chover de verdade.
 |
| Glauber interage com o povo da cidade nos bastidores de Deus e o Diabo |
A câmera continuou rodando, colhendo imagens maravilhosas, embora as cenas não pudessem ser usadas no filme. O dia de filmagem estava perdido. E também os seguintes. A frustração de Glauber e da equipe se compensava com a alegria real dos pobres lavradores pela chuva.
Quando o sol voltou, recomeçaram em ritmo acelerado para tentar recuperar o atraso e chegaram a rodar vinte takes em um dia, até que a câmera quebrou. Glauber e Lima Junior foram trocá-la por outra em Salvador e na longa viagem de volta conversaram muito sobre Villa-Lobos, e Glauber decidiu partir para orquestrar o filme musicalmente. Estruturou a importantíssima cena de amor com Rosa e Corisco se beijando em um longo plano circular a partir da música de Villa-Lobos. Mas quando foram filmar, o carrinho de madeira construído pelo carpinteiro Lídio Silva para carregar a câmera não funcionou. E a cena acabou sendo feita por Waldemar com a câmera na mão, Glauber gritando no seu ouvido e Waltinho carregando a bateria da câmera, todos rodando em volta do interminável beijo apaixonado de Rosa e Corisco.
Os quatrocentos figurantes tinham sido contratados por um salário mensal para ficarem à disposição da produção durante as filmagens. Mas ninguém havia falado que eles teriam que subir, várias vezes, os 4 mil degraus escavados na pedra do Monte Santo, seguindo um beato de araque, para serem fotografados por aquela gente estranha. Diante do descontentamento geral e da pouca disposição dos figurantes para interpretar uma multidão de fanáticos com a necessária energia, Gugu teve que lançar mão de sua arma secreta. Seu pai era um político conservador de muito prestígio, que recebia carregamentos de leite em pó da Embaixada dos Estados Unidos, através do programa de ajuda externa Usaid, para serem distribuídos entre as famílias necessitadas do sertão baiano. Ou seja, o eleitorado.
Antes de partir para Monte Santo, Gugu encheu uma caminhonete com todas as caixas de leite em pó que conseguiu desviar do escritório político do pai. Iria distribuí-las às famílias necessitadas do sertão, sim. Mas conforme as necessidades da produção. Gugu pretendia distribuir o leite em pó aos poucos, como agradecimento e estímulo ao povo e às autoridades pela colaboração com as filmagens.
Waltinho e Paulo Gil foram aclamados quando anunciaram aos figurantes que, além do salário mensal, quem subisse o morro ganharia duas latas de leite em pó. Ao longo do dia, a notícia se espalhou e veio gente até dos vilarejos vizinhos para participar da filmagem. A multidão subiu e desceu o Monte Santo várias vezes, cantando e rezando junto com o Beato e seguindo as instruções de Glauber. No alto do morro, cercado pelos figurantes e pelos ventos, o Beato parecia possuído por um verdadeiro transe místico. De braços abertos e cajado na mão, proclamava sua fé aos céus, e os devotos, à beira da histeria, respondiam: “Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!”
Atrás da câmera, Glauber chorou. E chorou de novo, cinco dias depois, num velho cinema de Feira de Santana, assistindo as cópias das cenas que o motorista/“Cego Júlio” trouxera de Salvador. Por um defeito na câmera, a luz entrara pelo chassi e a película fora superexposta, o material estava perdido. Todas as cenas teriam que ser refilmadas. Como levar de novo todo aquele povo a passar o dia subindo e descendo o Monte Santo?
Com seu arsenal de leite em pó devastado, Gugu comprou em Feira de Santana duas máquinas de costura Singer e um talão de rifas. Em Monte Santo, anunciou que quem participasse das filmagens ganharia uma rifa e concorreria às máquinas de costura. Teve mais gente do que na primeira vez, todos já sabiam o que fazer, o vento soprava ainda mais forte, Lídio estava ainda mais impregnado da exaltação mística do Beato, e Glauber aproveitou para modificar alguns movimentos de câmera, já imaginando a cena com música sinfônica de Villa-Lobos. Tudo ficou ainda melhor do que na primeira filmagem.
A interação entre realidade e ficção dificultou bastante a filmagem da cena em que Antonio das Mortes massacra uma multidão de beatos. Quando Paulo Gil explicou aos figurantes que o jagunço ia atirar e eles deveriam “morrer”, muitos debandaram ladeira abaixo. Com sua autoridade de princesa, Yoná tentava tranquilizá-los dizendo que ninguém ia morrer de verdade, que era só de brincadeira. Irritada com a lentidão das filmagens, uma velha reclamou: “Vige, uma hora dessas e a gente ainda não comeu, vamu morrê é de fome.” À custa de muita conversa, Paulo Gil e Walter Lima conseguiram trazer de volta os figurantes desconfiados e reposicioná-los no alto do morro. Glauber mandou a câmera rodar, gritou “ação”, e Maurição começou a atirar nos beatos.
Sob a fuzilaria de festim, os figurantes desabavam como sacos de batatas. Walter Lima explicou aos figurantes, bem alto: “Não dá pra morrer assim. Tem que cair lentamente. Len-ta-men-te.” Ninguém se mexeu. Waltinho gritou: “Então vamos ensaiar. Todo mundo morrendo.” Ninguém se mexeu. Glauber veio em seu socorro e esclareceu: “Vocês têm que cair bem devagarinho. Bem de-va-ga-ri-nho, entenderam?”
Todo mundo morreu como Glauber queria, e depois os assistentes os lambuzaram com litros de chocolate escuro, o sangue em preto e branco de uma produção modesta. À noite, Glauber confessou a Lima Junior que sentira um verdadeiro prazer em filmar Antonio das Mortes massacrando os beatos: “É a projeção do meu inconsciente fascista em cima dos miseráveis. ‘Deus e o diabo’ é uma razão histórica dialética para esconder o sádico de massas que sou.”
Nos intervalos da filmagem, Walter Lima gravava os cantos, ladainhas, falas do povo, ruídos e músicas que poderiam ser úteis na edição final. E ficava de olho vivo na figuração para evitar sandálias havaianas e outras modernidades em uma história passada em 1939, não por acaso, ano do nascimento de Glauber. Um dos grandes momentos foi protagonizado por Geraldo, com uma pedra de mais de 20 quilos na cabeça, subindo toda a ladeira até o santuário no alto do morro.
Sem nenhuma formação teatral, Geraldo precisava viver de verdade a cena para interpretá-la, numa adaptação sertaneja do método Stanislavski. Penalizado com seu sofrimento, Waltinho sugeriu que ele carregasse uma pedra menor, ou só a colocasse na cabeça quando a câmera começasse a rodar. Estoico como um fanático, Geraldo recusou tudo. Sofreria na própria carne o calvário do vaqueiro Manuel. No fim do dia, Geraldo estava exausto e ferido, e seu sangue não era de chocolate. O peso da pedra comprimiu durante horas seus músculos e nervos do pescoço e o imobilizou por vários dias. Mas as cenas ficaram emocionantes, as plateias se comoveriam com tanta dor e sofrimento interpretados com tanto realismo por aquele ótimo ator, um verdadeiro “animal cinematográfico”.
Na chapada de Cocorobó, sob o sol do sertão, o chão de malacacheta brilhava como ouro. Com a câmera numa kombi correndo paralela aos atores, Glauber filmou a corrida desesperada de Manuel e Rosa em direção ao mar, a sequência final do filme. O único imprevisto foi o tropeço e a queda de Yoná quando eles já estavam quase no final da corrida. Da kombi, Glauber gritou para Geraldo não parar, deixá-la para trás e seguir em frente. Não havia mais película para refilmar toda a corrida, e Glauber mudou o final do filme guiado pela necessidade e pela inspiração do momento.
Com os boatos de que, depois das filmagens em Milagres, Ruy Guerra iria filmar em Monte Santo, a equipe marcou presença. Quem ousasse invadir o território de filmagem de Glauber encontraria as 25 capelinhas do caminho sagrado pichadas com a inscrição: D + D (Deus e o Diabo) passou por aqui.
Exaustos e bronzeados da epopeia no sertão, Glauber e equipe retomaram as filmagens em Salvador, no histórico Solar do Unhão, um belo conjunto arquitetônico do século XVI construído à beira-mar, com um casarão de dois andares, uma igrejinha, senzala, cais, aqueduto e um chafariz. O conjunto seria restaurado por Lina Bo Bardi para abrigar o futuro Museu de Arte Moderna, mas estava caindo aos pedaços quando Glauber filmou a cena em que Antonio das Mortes toma um cafezinho em silêncio, ouvindo uma conversa do padre com o coronel. A locação tinha diversos ambientes diferentes, que seriam os cenários naturais para as últimas cenas de interiores.
Convocados por Glauber, Ubaldo e Maciel foram assistir às filmagens na capela. Lídio era gago e estava nervosíssimo. Glauber não se importava com a gagueira, porque tinha decidido que, além de Corisco, Othon também dublaria o Beato, não só porque era um grande ator que poderia fazer vozes e interpretações diferentes, mas pelo efeito dramático de Deus e o diabo falarem com a mesma voz.
Com a tensão da cena, Lídio ficava ainda mais gago, e Glauber passou a incentivá-lo: “Ô seu Lídio, o ator tem que ser ator, tem que desmunhecar, tem que ser homem, ser mulher. Tem que ser santo e ser diabo.” Lídio estava quase chorando e gaguejou: “Seu Gla-Glauber, eu não que-quero mais ser ator não.” Convencido a não abandonar a profissão.
Lídio finalmente foi assassinado por Yoná, utilizando inúmeros planos, com várias lentes, em diversos movimentos de câmera. Maciel estava impressionado com o desenvolvimento dos métodos de direção de Glauber.
Ao rodar, Glauber ia mudando, inventando, se deixando guiar pelo momento e pela intuição. Marcava um plano harmonizando os movimentos de câmera na mão com os atores. Mas depois de gritar “ação” mudava a posição dos atores durante a cena, deixando que sua intuição lírica prevalecesse sobre a gramática cinematográfica.
Filmado o último take, todos partiram para a casa de Glauber em silêncio, com a sensação de dever cumprido, mas o sentimento de um grande vazio. Embora exaustos, todos gostariam que o trabalho e a convivência continuassem. Mas não se livrariam de Glauber tão cedo: ele se sentia autorizado a distribuir projetos e tarefas entre os amigos e não pedia licença para intervir em suas vidas particulares e até em seus amores.
Glauber partiu para o Rio com as cópias do filme para começar a montagem. Esgotado física e emocionalmente, não filmara a chegada de Manuel ao mar como estava no roteiro. Achava que a longa corrida, ao som de uma música vibrante, com uma letra fechando a história, já seria suficiente para um grande final. A sequência já estava montada e a letra pronta.
Não era o que pensavam Walter Lima, nem Paulo Gil, nem toda a equipe. Depois de ver as cópias na moviola da Líder: o mar era indispensável. Glauber resistia, não havia mais tempo, nem dinheiro e nem paciência. O pernambucano Jarbas era irmão do popularíssimo animador de televisão Abelardo “Chacrinha” Barbosa, criador do bordão “quem não se comunica se trumbica”. Extrovertido, irreverente e hiperativo, Jarbas estava se jogando de cabeça na produção de cinema. Tinha feito o Boca de ouro com Nelson Pereira e estava produzindo simultaneamente Os Fuzis, que Ruy Guerra filmava em Milagres, e Ganga Zumba, que Cacá Diegues rodava em Campos dos Goitacazes, quando se associou a Gugu em Deus e o diabo. Num derradeiro esforço da produção, Jarbas alugou um helicóptero e Glauber filmou a chegada do vaqueiro Manuel ao mar de Cabo Frio, a duas horas do Rio.
Entre risos e lágrimas de euforia e desespero, Glauber passou quatro meses na moviola montando Deus e o Diabo com o experiente Rafael Valverde, que havia montado Rio, 40 graus, Assalto ao Trem Pagador e Vidas Secas. O filme estava quase pronto, mas faltava um elemento fundamental: a música. Além de Villa-Lobos, e até para contrastar com sua grandiosidade sinfônica, Glauber havia concebido a trilha sonora como um longo poema na linguagem dos cordéis, dividido em várias partes, que deveria ser musicado e cantado com a aspereza e o despojamento dos cegos violeiros, para funcionar como narração e comentário em momentos cruciais do filme. Apesar de conhecer muitos músicos baianos e nordestinos, familiarizados com a linguagem dos cantadores e violeiros, Glauber escolheu um jovem cantor, pianista e compositor paulista, amigo de João Gilberto e de Tom Jobim.
De origem árabe e formação clássica, Sérgio Ricardo (aquele que viria a quebrar o violão no Festival de Música de 67) começava a fazer sucesso com sua bossa nova romântica e sofisticada e era apresentado na televisão como cantor-galã. Sérgio já havia lançado três LPs com seu estilo leve e romântico, mas, depois de ver Barravento no cinema, dera uma guinada em sua música. Contagiado pelo entusiasmo político e inspirado pelo filme de Glauber, tinha gravado uma canção muito diferente de tudo que vinha fazendo.
Sérgio também adorava cinema, havia dirigido o curta O menino da Calça Branca e ficara fascinado com a força do filme e com a personalidade de Glauber, quando o conheceu nas noites cariocas de 1962. Glauber simpatizou com ele, o visitava em seu apartamento no Humaitá, gostava de suas canções, o instigava a abandonar o bossanovismo e usar sua arte para a revolução social; mesmo assim Sérgio se surpreendeu quando recebeu o seu telefonema o convocando para fazer as músicas de Deus e o diabo.
Barravento não era só uma homenagem sincera e uma música bonita; para Glauber foi um sinal de que Sérgio era a pessoa certa para musicar e cantar os versos que narrariam e comentariam Deus e o Diabo. Glauber não quis lhe mostrar o filme, que ainda não estava pronto, apenas lhe apresentou um longo poema, em várias folhas datilografadas, escrito nas rimas e cadências dos violeiros nordestinos. E lhe deu instruções precisas de como musicar cada parte, umas mais tristes, outras vibrantes, algumas épicas e outras mais narrativas. Algumas eram adaptações de canções folclóricas, como a que Tom Zé gravou para Waltinho no fim das filmagens em Salvador e Glauber queria usar para o duelo de Antônio das Mortes e Corisco.
Já em sua casa, Sérgio pegou o violão e começou a cantarolar os versos no jeito meio falado, ao estilo dos cantadores, com as escalas musicais nordestinas, buscando o despojamento que Glauber queria. Era o oposto de tudo que aprendera e da música que sabia fazer. Ricardo teria que se metamorfosear em violeiro nordestino. Depois de ouvir tudo que podia de cantadores e violeiros, em uma semana compôs as nove músicas. Apesar das advertências de Sérgio de que a gravação era só um esboço, para sentir a harmonização entre os versos e as melodias, entre as cadências das palavras e os acordes do violão, Glauber achou que estava ótimo: Cru como ele queria. E marcou a gravação para o dia seguinte, no estúdio Hélio Barroso, no centro da cidade.
Sérgio ficou nervoso, queria dar um acabamento às músicas, mas Glauber estava animado e apressado. Apenas discutiram algumas sugestões de Sérgio nas letras, e de Glauber nas músicas. No estúdio, só com seu violão, Sérgio sofreu todo tipo de pressão e provocação de Glauber para se despojar de seu jeito afinado e contido de cantar e expressar a raiva, a dor e a violência de que as canções precisavam. Gritou, rachou a voz, feriu os dedos no violão, cantou por Antonio das Mortes, Corisco, Rosa, Manuel e o Beato Sebastião com os versos de Glauber. Ouça a trilha completa aqui em baixo.
Depois de noites viradas na mixagem de som e imagem, Glauber terminou o filme em cima do prazo final para inscrição no Departamento Cultural do Itamaraty, que indicaria o representante brasileiro no Festival de Cannes. Era só uma vaga, e o franco favorito. Vidas secas, estava em exibição no Brasil com excelentes críticas e bom público. Mas Jarbas e Gugu achavam que Deus e o diabo tinha bala para ganhar o seu lugar ao sol de Cannes.
Glauber considerava Vidas secas um filme perfeito, clássico que remetia ao neorrealismo italiano, à tradição do cinema realista francês, ao cinema da recessão americano, ao cinema de silêncio dos japoneses. Mas era muito diferente do seu: um era apolíneo e o outro dionisíaco. E acima de tudo Glauber se sentia muito desconfortável disputando uma vaga de festival com seu mestre Nelson. Amigo e fã ardoroso de Glauber desde Barravento, o cônsul Arnaldo Carrilho havia articulado a comissão do Itamaraty, presidida por Humberto Mauro, e exercia sua influência na escolha dos filmes para os festivais internacionais.
Carrilho tinha enlouquecido com Deus e o diabo. Não se falava de outra coisa no bar da Líder. Quando souberam, Nelson, Barretão, Herbert Richers e o uruguaio Danilo Trelles, os produtores de Vidas secas, começaram a ficar preocupados. Numa roda de bar, alguém provocou Glauber: como ele ousava botar seu filme para concorrer com o seu mestre? Constrangido, resmungou que se fosse por ele Deus e o diabo não disputaria a indicação, que fora inscrito à sua revelia por Jarbas e Gugu.
Quando o filme foi exibido numa sessão só para jornalistas, na cabine da United, Glauber estava nervoso com a presença de Moniz Vianna, mentor de Waltinho e da jovem crítica carioca, que era rigoroso e implacável com o cinema brasileiro. Glauber estava brigado com Moniz desde suas críticas devastadoras a Barravento e Porto das Caixas, do amigo Saraceni, mas o respeitava como um grande crítico e era seu leitor constante desde a adolescência em Salvador. Na saída, Glauber soube pelo crítico Paulo Perdigão, amigo de Moniz: Até ele tinha gostado.
No dia 13 de março, véspera do aniversário de Glauber, o Rio de Janeiro parou com o grande comício na Central do Brasil, convocado pelas lideranças sindicais e estudantis em apoio às “Reformas de base” propostas pelo governo João Goulart, que transformariam radicalmente o Brasil. Eufóricos e animados pelo fervor cívico, Glauber, Cacá, Sarra, Leon, Davizinho, Miguel, Waltinho e outros jovens revolucionários chegaram empolgados à praça em frente à estação ferroviária, tomada por 150 mil pessoas com faixas e bandeiras, gritando palavras de ordem.
Ouviram emocionados os discursos inflamados dos governadores Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul, e Miguel Arraes, de Pernambuco, do líder comunista Luiz Carlos Prestes e do presidente da União Nacional dos Estudantes, José Serra, apoiando as reformas que, imaginavam os rapazes do Cinema Novo, eram o início da transformação do Brasil em uma república socialista tropical, como Cuba. A multidão explodiu quando Jango anunciou o decreto da reforma agrária, que desapropriava todas as grandes propriedades à margem de ferrovias e rodovias federais. E depois a nacionalização das refinarias de petróleo: “A partir de hoje, trabalhadores brasileiros, a partir deste instante, as refinarias de Capuava, Ipiranga, Manguinhos, Amazonas e Rio Grandense passam a pertencer ao povo.” E seguiu, ovacionado: “Dentro de poucas horas, outro decreto vai regulamentar o preço extorsivo dos apartamentos e residências desocupados, preços que chegam a afrontar o povo e o Brasil”, anunciava o presidente sob gritos e aplausos, ao lado da primeira-dama Maria Thereza Goulart.
Com a massa em delírio, Jango anunciou o controle das remessas de lucros das empresas estrangeiras para o exterior, a reforma eleitoral que dava voto aos analfabetos e aos praças das Forças Armadas e a reforma universitária radical apoiada pela UNE. Parecia um filme se desenvolvendo diante deles, mas era a História em marcha. Não havia dúvida, o povo e as lideranças progressistas estavam com Jango, as reformas mudariam o país. E se a burguesia e os reacionários, como os governadores Carlos Lacerda, do Rio de Janeiro, o populista Adhemar de Barros, de São Paulo, e o banqueiro Magalhães Pinto, de Minas Gerais, tentassem resistir à vontade do povo e à marcha do socialismo, o governo dispunha de sólido apoio nas Forças Armadas.
Saíram do comício ainda mais eufóricos do que chegaram, foram caminhando até a Cinelândia, para um chope no Amarelinho em comemoração ao momento histórico que estavam vivendo. O Brasil seria um novo país. O grande amanhã estava chegando. Com toda a turma reunida, o cônsul Carrilho, vindo do Itamaraty, soltou a bomba: “Deus e o diabo foi o escolhido!” Enquanto todos gritavam e comemoravam, Glauber emudecia e entrava em profunda depressão. Vidas secas estava fora.
Já passava de meia-noite e era o aniversário de Glauber. Mas ele nem tocou no assunto. Fez 25 anos sem bolo nem velas e passou o dia correndo entre o Itamaraty e a Polícia Federal, atrás de passagens, passaporte e dólares. Queria sair do Brasil imediatamente.
Três dias depois, no imenso cinema Ópera, na Praia de Botafogo, Deus e o diabo foi exibido para uma plateia de convidados, que o aplaudiram diversas vezes em tela aberta, especialmente na cena de amor ao som de Villa-Lobos, no êxtase místico do Beato no alto do Monte Santo e na morte de Corisco, e o ovacionaram de pé no final. “Eles saíram da sala como se tivessem acabado de ver cinema pela primeira vez”, escreveu o crítico José Carlos Avellar no Jornal do Brasil.
Com a repercussão das pré-estreias, Glauber estrelou um grande debate com jovens críticos cariocas, mediado por Alex Viany, em que cada um parecia disputar quem tinha gostado mais do filme, com as mais profundas interpretações e os mais eruditos argumentos. E tanto que várias vezes Glauber pareceu até modesto, como quando se discutia o caráter ambíguo de Antonio das Mortes: “Há umas coisas que eu não posso explicar, coisas que outras pessoas podem explicar melhor do que eu.” Na noite de 25 de março embarcou no voo da Panair para Paris, onde ficaria até o início do Festival de Cannes, no final de abril. Teria um mês para fazer as legendas em francês de Deus o diabo, ver filmes e falar de cinema e revolução.
Em Paris, Glauber se hospedou no apartamento de uma amiga francesa que havia viajado, na Place d’Italie, e a primeira coisa que fez foi procurar Vinicius de Moraes, que estava servindo na representação brasileira na Unesco. Porque, além de amigo, era poeta, falava francês e adorava cinema. Para ser apresentado em Cannes, Deus e o diabo precisava ter legenda em francês, mas a tradução feita pelo crítico José Sanz no Brasil tinha ficado muito clássica e rebuscada, conflitando com a linguagem popular do filme.
Glauber pediu a Vinicius que fizesse uma nova tradução. O poeta adorou o filme e começou a trabalhar numa versão dos diálogos em francês. Todos os dias os dois se encontravam para discutir detalhes e Glauber se entusiasmava com a qualidade do trabalho de Vinicius. E ficou feliz e aliviado quando recebeu a notícia de que Vidas secas também estaria concorrendo à Palma de Ouro. Aos primeiros sinais de que a ida a Cannes estava ameaçada, os produtores tinham enviado o filme diretamente para a direção do festival, com as recomendações entusiásticas da crítica brasileira e apostando no prestígio que Nelson conquistara na Europa com Rio, 40 graus e Rio, Zona Norte.
O filme era tão bom que foi o convidado especial da direção do festival para a mostra competitiva. Pela primeira vez dois filmes brasileiros disputariam a Palma de Ouro.
O comício da Central tinha enfurecido a direita, alarmado a classe média e a Igreja católica, e havia grande agitação nos quartéis. Entidades conservadoras convocaram manifestações de massa contra a “comunização” do Brasil. Em São Paulo e em Belo Horizonte, mais de um milhão de pessoas participaram da “Marcha da Família, com Deus pela Liberdade”.
Com o governo sob o bombardeio da imprensa, novas marchas se seguiram em outros estados. No Congresso, a oposição, apoiada por moderados de outros partidos, pedia o impeachment de Jango. Mas os jovens revolucionários estavam confiantes, qualquer tentativa de golpe seria abortada pelos chefes militares leais a Jango, nada deteria a marcha da História.
No dia 1º de abril, o que parecia uma brincadeira de mau gosto no “Dia da Mentira” era verdade. Almoçando no La Coupole, Glauber e Vinicius souberam que um golpe militar havia deposto o governo do presidente Jango Goulart no Brasil. As notícias ainda eram imprecisas, mas pavorosas: o “dispositivo militar” janguista não havia funcionado e as forças conservadoras, unidas aos militares anticomunistas, haviam derrubado o governo sem um tiro.
Para evitar derramamento de sangue, Jango fugira do país e o governo debandara. O marechal Humberto Castelo Branco era o presidente provisório. Comunistas estavam sendo perseguidos em todo o Brasil. Surpresa, a esquerda nacionalista não entendia o que havia acontecido. Em Paris, com um dia de atraso, podiam-se ler os jornais brasileiros na agência da Panair.
O editorial do Jornal do Brasil era ferozmente golpista: “Desde ontem se instalou no País a verdadeira legalidade. Legalidade que o caudilho não quis preservar, violando-a no que de mais fundamental ela tem. A legalidade está conosco e não com o caudilho aliado dos comunistas. Aqui acusamos o Sr. João Goulart de crime de lesa-pátria. Jogou-nos na luta fratricida, desordem social e corrupção generalizada.”
Além de Deus e o diabo e Vidas secas, o novo cinema brasileiro estaria representado em Cannes por Ganga Zumba, de Cacá, indicado pelo Itamaraty para a “Semana da Crítica”, reservada a diretores estreantes.
Antes de viajar, Glauber havia descolado com Wallinho um emprego para Maciel na TV Excelsior. Regina estava se tornando a santa padroeira do Cinema Novo, e Wallinho, que apoiava e tinha ótimas relações com o governo Jango, entrava na linha de tiro dos militares e dos empresários golpistas e em pouco tempo perderia a Panair, a TV Excelsior e boa parte de sua fortuna.
Cacá foi do aeroporto direto para o apartamento de Glauber, na Place d’Italie. Animadíssimo, estava terminando com Vinicius as legendas em francês de Deus e o diabo e dizia que eram mais bonitas e poéticas do que os diálogos originais.
Até François Truffaut, que concorria com La peau douce, escreveu que “filmes como este justificam a existência do cinema”. A crítica adorou Vidas secas. Surgia um forte candidato à Palma de Ouro. A única exceção foi o France Soir, que falava pouco e mal do filme. A crítica tinha ficado indignada com a morte da cachorra “Baleia”, um dos grandes momentos da saga, que levava o público às lágrimas: “Não pode ser bom um filme feito por brasileiros selvagens que matam cruelmente animais para comover o público.”
O festival dobrava a curva e entrava na reta final, com dois brasileiros disputando cabeça a cabeça com os favoritos.
Conquistar os mercados de cinema da Europa, com suas salas de arte e seus circuitos universitários, não era tão difícil quanto seduzir o público brasileiro, sempre desconfiado do cinema nacional, por sua precariedade técnica, sua pouca ambição artística e sua pobreza econômica. Desde o sucesso de Rio, 40 graus, poucos filmes haviam conquistado grandes bilheterias, como Os cafajestes, Assalto ao trem pagador, e os dois de Anselmo Duarte; Absolutamente Certo e O pagador de promessas.
Para promover os filmes no Brasil, a palavra de ordem do Cinema Novo era ganhar prêmios e fazer barulho em festivais internacionais. Críticas consagradoras de Deus e o diabo pipocavam na imprensa mundial. O Historiador, Georges Sadoul, autor da monumental Histoire générale du cinéma, em seis volumes, sabia do que estava falando e saudou Glauber como “a grande revelação de Cannes, entendendo-se revelação por estilo revolucionário”.
Na volta para o Rio, Glauber lamentava a oportunidade perdida de fazer a sua contrarrevolução telefônica e assegurava a Barretão: “No Brasil só tem três coisas que funcionam: a Igreja, o Itamaraty e o Exército, porque têm hierarquia. E país que não tem hierarquia é uma esculhambação.” Ajudado pela publicidade internacional, a crítica nacional e o boca a boca entre os que assistiram às premières, o lançamento de Deus e o diabo foi muito bem-sucedido.
Sem ser um estouro de bilheteria, teve bom público e uma torrente de críticas entusiasmadas. Até o temido Moniz Vianna, maior ícone da crítica cinematográfica carioca, que não tinha a menor simpatia pelo Cinema Novo e estava brigado com Glauber, elogiou por escrito, à sua maneira: “O melhor filme brasileiro depois de O cangaceiro, de Lima Barreto.” Qualquer um ficaria felicíssimo, mas Glauber, que desancara O cangaceiro com 15 anos de idade no seu programa de rádio em Salvador, achou o elogio ambíguo e insuficiente. Mas Moniz reafirmou seu juízo: gostava muito de O cangaceiro e o considerava um dos raros filmes brasileiros elogiáveis.
Entre a euforia pelo sucesso artístico internacional e as incertezas pelo quadro político nacional, Glauber queria mais. Queria inventar um cinema brasileiro forte, independente e plural, queria orientar a vida, os amores e os filmes de seus amigos, queria mudar o Brasil em 24 quadros por segundo. Aproveitando a boa repercussão de Deus e o diabo, Barravento foi relançado em quatro cinemas do Rio. Anunciado como “um filme de violência, sexo, suspense e fetichismo, a beleza satânica de uma mulher no mais excitante nu do cinema”, foi ignorado pelo público. Em setembro de 1964, Glauber se preparava para levar Deus e o diabo ao Festival de Acapulco, no México, e de lá planejava passar uma temporada com Ubaldo em Los Angeles. Conheceria Hollywood por dentro, Hollywood conheceria Glauber Rocha. Sentado na cama, Glauber ria espremendo os olhos, e sua voz de trovão enchia a casa: “E eu vou fazer O dragão da maldade contra o santo guerreiro!” Inebriados de esperança e de amizade, todos riam e gritavam: “Abaixo a ditadura! O Cinema Novo vai conquistar o mundo!”. Mas antes ele ainda fez o grande Terra em Transe (1967).
Segundo o próprio Glauber em entrevistas em inglês, presentes no livro "On Cinema" que foi editado pelo pesquisador Ismail Xavier: "Em Deus e o Diabo, desenvolvi algumas coisas que estão presentes em Barravento. É impossível negar que a sombra de Eisenstein está presente no filme, principalmente na primeira parte. Gosto muito de Eisenstein, mas vivo em uma realidade que não é épica no estilo de Alexander Nevsky (Aleksandr Nevskiy, Sergei M. Eisenstein, 1938). Também não é um drama histórico no estilo de Ivan, o Terrível (Ivan Grozniy, Sergei M. Eisenstein, 1944)."
E continua: "Quando falei com vários cegos e com o homem que matou Corisco na vida real, eles basicamente me contaram a mesma história, mas cada um misturou com a verdade algum detalhe inventado. O Major Rufino, o homem que vemos em Memória do Cangaço (1965) de Paulo Gil Soares e que me inspirou a criar o personagem Antônio das Mortes, me deu três versões diferentes de como ele matou Corisco. E no filme de Paulo Gil, ele dá uma quarta versão. O que sabemos com certeza é que ele feriu a mulher do Corisco no pé e mostro isso no meu filme. A seguinte expressão portuguesa é muito popular no Nordeste; os cegos, no teatro popular, no circo e nas feiras, dizem: ‘Vou contar-lhes uma história verdadeira e imaginária; ou melhor, é imaginação verdadeira. ’A ideia do filme surgiu-me espontaneamente, com uma certa quantidade de evidências. Aprendi tudo o que sei nesse clima. Não há nada de intelectual na minha posição (...) Antônio das Mortes em Black God, White Devil é o único personagem que eu realmente inventei. Os outros são personagens reais de um contexto histórico específico. Com o Antônio eu apresentei a descrição de uma consciência que é ambígua, que está em angústia. Antônio, o aventureiro camponês primitivo, pode ser visto de forma mais desenvolvida em Paulo Martins, com todas as suas contradições em Terra em Transe. Paulo Martins, assim como Antônio, é um cara que oscila da direita para a esquerda, que tem preocupações ambivalentes com os problemas políticos e sociais. É, na verdade, uma parábola sobre os partidos comunistas na América Latina. Para mim, Paulo Martins representa, no fundo, o típico comunista da América Latina. Ele pertence ao Partido sem realmente pertencer. Ele tem um amante que pertence ao Partido. Ele se coloca a serviço do Partido quando pressionado para isso. Mas ele também gosta muito da burguesia que representa. No fundo, ele despreza o povo. Ele acredita nas massas como um fenômeno espontâneo, mas acontece que as massas são complexas. A revolução não irrompe quando ele quer e, portanto, a posição que ele assume é quixotesca. No final da tragédia, ele morre. Antônio é mais primitivo, tira dinheiro de quem está no poder, tem que matar o pobre, o santo e o cangaceiro Corisco, e sabe que essas pessoas não são más porque são apenas vítimas de um determinado contexto social que têm. nenhum conhecimento de. Antônio é um bárbaro, enquanto Paulo é um intelectual."
Mas segundo Glauber, ele superou Antônio das Mortes: "Personagens como Paulo Martins ou Antônio das Mortes não me interessam mais. Acho, por exemplo, que Che Guevara é o personagem genuinamente moderno. Ele é o verdadeiro herói épico, nem intelectual como Paulo, nem primitivo como Antônio."
Mas nem tudo é perfeito e o próprio Glauber admitia certo machismo na representação de suas personagens femininas: "Em Barravento uma personagem feminina dá a própria vida como exemplo, ela se sacrifica pelo povo, leva um homem a assumir uma posição política e ela morre. Acho difícil trabalhar com personagens femininos. Já escrevi vários roteiros para filmes que ainda não foram feitos, nos quais tive dificuldade em criar personagens femininas que, para mim, fossem muito conscientes e tivessem influência moral e política. Mas não Sílvia em Terra em Transe. Não, definitivamente não a Sílvia, mas ela é uma figura secundária; ela é uma espécie de musa, uma expressão da adolescência, que se torna uma imagem fugaz. Sílvia, na verdade, nada diz em Terra em transe porque não consegui colocar uma única palavra em sua boca. Suas palavras foram cortadas do filme porque tudo o que ela disse parecia ridículo. Sara, talvez, diga coisas um pouco como um homem. Talvez haja o ‘fenômeno da compensação’ acontecendo aqui porque, no contexto do Brasil, não costumo encontrar mulheres com esse nível de consciência." Ou seja, em sua visão as mulheres tinham um lugar inferior na dinâmica cinematográfica pela falta de consciência, o que podemos considerar um erro de interpretação sobre as teses sobre o marxismo, onde a crítica a consciência não pode valer mais que a crítica a estrutura imposta, mas o que explica a personagem de Yoná.
Leitura do filme
Tentarei não me estender muito na crítica, pois levantar o background do filme, algo muitas vezes esquecido pelos críticos e analistas de cinema, já foi bem longo. Vou focar nas dimensões das alegorias, arquétipos e representações através da passagem de tempo dentro da realidade imposta pelo filme: do sertão e do cangaço.
A primeira cena do filme mostra uma vaca morta, transitando para o rosto do protagonista. É essa uma das vacas que morreu de sua criação e que vai gerar o desentendimento com o patrão. Mas nesse momento do filme, a transição dessa cena para o rosto do protagonista gera um raccord sentimental de que a fome e a morte selam o destino do homem.
As faces dele e de Rosa já entregam a tragédia. Ele mata o patrão e cangaceiros matam sua mãe. Ele adere ao movimento messiânico. E eles começam a espancar moradores. Isso separa Manuel de Rosa, já que ela não acredita. Rosa quer trabalhar e ir embora. Manuel quer ficar e lutar. O messianismo degrada o homem e o tira da família, submetendo a mulher. O cangaço, degrada a mulher e subjuga o homem.
Aqui, Glauber está debatendo questões profundas em torno do processo revolucionário e questão do romance, principalmente em torno da construção social do casal tradicional homem e mulher. Originalmente, o socialismo possuía uma raiz romântica, principalmente na visão dos socialistas agrário e dos socialistas utópicos. Então originalmente socialismo e romantismo caminhavam juntos. Pelo menos até as fases da Revolução Francesa e a Comuna de París: O socialismo romântico pareceu na época sem resultados e, pior, perigoso.
Nesse meio tempo, Marx lançou seu Manifesto Comunista, focando não em uma visão romântica, mas sim uma visão científica do socialismo. E para Marx a revolução não aconteceria por um desejo ou adesão de alguém, mas sim por um esgotamento dos meios de exploração, onde a materialidade e o acúmulo gerariam as condições necessárias para uma revolução. Em outras palavras, quando uma revolução é real, ela é notável pelas características de insatisfação e mobilização.
Só que aí temos um problema: a morte da associação do romantismo com a revolução fez com que as revoluções do século XX fosse, em alguns casos mais fortes, e outros fazendo os movimentos serem facilmente obliterados, por não haver um ideal para tomada do poder para além da resistência.
Aqui Deus e o Diabo tenta convergir todos esses debates. Nesse altura do filme, mas especificamente quando Rosa beija Corisco, há uma divisão interpretativa ambígua o suficiente para considerarmos duas hipóteses totalmente possíveis:
1 - Foi tudo literal e Glauber queria representar a sina do popular, principalmente agrário, e a dificuldade de canalizar seu apoio e manter sua consciência, onde a cada transição ele se perde mais na ideologia e no desespero. Uma visão um pouco fatalista, talvez.
2 - Como um faroeste, inspirado principalmente por John Ford de quem Glauber era grande fã e estudioso, a transição temporal do filme lembra a ideia de "ciclo" do filme Os Brutos Também Amam (Shane). Assim, Manuel seus conhecidos ao longo da trama representam ele mesmo e as fases de sua ideologia, as poucos se perdendo. Ele primeiro era o vaqueiro que foi usurpado e, em seu direito, matou o fazendeiro quando esse ainda por cima o quis castigar fisicamente. Depois, desesperado, se filia a um movimento messiânico. E o padre (obviamente inspirado negativamente em Padre Cícero), prega um culto a morte constante. Rosa percebe, e mata esse "lado" de Manuel, principalmente através da morte da natureza e da família, representado pelo sacrifício do bebê do casal. A desilusão de Manuel e tão grande que ele se filia ao cangaço, conseguindo atrair de volta a simpatia de Rosa por ele, onde o beijo em Corisco, representa a adesão de Rosa ao cangaço, pois pelo menos agora eles não passam fome. Mas, de uma maneira inteligente e cruel, Glauber escolheu que esse beijo fosse em outro, pois assim percebemos que Manuel perdeu algo em sua trajetória: o orgulho e desejo de viver.
No final, a busca do cangaço não leva a lugar algum e só serve para causar a desilusão e mudança final de Manuel: para João das Mortes, o homem sem ideologia que faz o que os patrões mandam. Faz todo sentido pensar que o peão procurado se torne ele mesmo caçador de recompensas. E como Rosa cai no final do filme, ali está representado sua ausência e conclusão final, que é o abandono de toda a ideologia e tese em prol de um nacionalismo fraturado e contraditório.
Como único personagem do filme totalmente inventado por Glauber Rocha, é obvio que Antônio das Mortes é o personagem favorito de Glauber, tanto pelo seu impacto estético visual, como por sua ideologia fraturada e realista. Alguns críticos afirmam que depois de Deus e o diabo Glauber abandonou sua admiração por Antônio das Mortes e personagens similares. Mas não concordo, pois além do personagem retornar em Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro, Antônio retorna e ainda luta ao lado dos cangaceiros e população local de uma cidade, contra os militares, apagando seus pecados. O personagem marcou tanto o mundo do cinema, que o cineasta alemão Rainer Werner Fassbinder deu o nome de seu filme "Rio das Mortes" (1970), inspirado no personagem de Glauber.
No fim, Deus e o diabo reflete genialmente o debate e as contradições entre a cultura brasileira e o nacionalismo, e o socialismo. Onde no filme é profético o pessimismo do filme, pois se avizinhava o golpe militar, e a contradição se tornou realidade, contrastando principalmente com o otimismo de Dragão da Maldade. Mas este elemento é talvez o único que possa ser criticado do filme: ser tão pessimista em período otimista (Jango), e ser tão positivo em período de derrota (ditadura). Essa noção de "verdade e prótese" distintas, representa bem a independência de Glauber, mas também as contradições e limites de suas ideias e representações para esquerda, já que hoje algumas das formas de representar soam ultrapassadas ou pelo menos desconexas da realidade política imposta.
Tecnicamente, o filme marcou época. A estética do filme, desde as roupas, os materiais, as armas influenciaram muito como filmes de ação e westerns, em um estilo mais "cru" de representar a realidade no cinema. Também os movimentos de câmera e a linguagem de Glauber influenciou muitos cineastas, mais até que sua mensagem. Apesar de em preto e branco, a fotografia é cheia de luz e intensidade, algo incomum a filmes em preto e branco. A atuação de Othon Bastos é fantástica, e acredito que seu estilo bretchiano, agressivo e expressivo, foi inspirador para vários atores. A trilha sonora de Sergio Ricardo também é impecável. Seu jeito despojado de cantar, as canções de letra épicas e rústicas, marcam muito. Impossível esquecer do grito: "Se entrega, Corisco!". Com certeza um dos 10 maiores filmes brasileiros de todos os tempos.
Atualmente, o filme está sendo restaurado para 4k pela Cinemateca e por uma das filhas de Glauber, Paloma. Será que vai ficar legal ou vai tirar o estilo "cru" do filme? Vamos esperar parar ver.
Disponível no Globoplay, mas dá para achar no Youtube também.
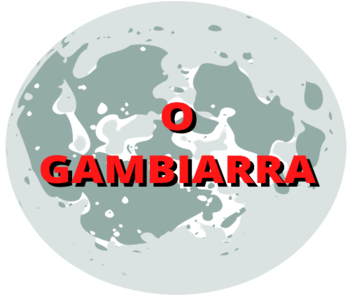




















Comentários
Postar um comentário